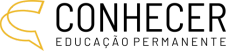
blog
01 de agosto
INTERSECCIONALIDADE E A
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL: ENTRE A OPRESSÃO DE
GÊNERO E RAÇA E A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA
Parece-nos evidente que o debate acerca da interseccionalidade inaugurou um modo particular de compreensão da realidade que pode desvendar da realidade objetiva as suas múltiplas determinações e intersecções a ela inerentes. Este desvendar da realidade pode evidenciar para nós as contradições mais salientes no debate acerca dos direitos das crianças e adolescentes no que concerne ao trabalho infantil.
A chave analítica que queremos explicitar com tal reflexão corresponde a busca pelo desvendamento do trabalho infantil como expressão interseccional entre escravidão, gênero e raça. É certo que as relações sociais se apresentam de modo interseccional o que corresponde
a um desafio ainda maior de apresentar os seus formatos e intersecções provenientes acerca deste debate.
Os estudos empreendidos até aqui têm nos revelado que há uma evidente intersecção entre trabalho infantil e as mais brutais disparidades de raça, classe e gênero que atravessam a realidade social desde muito tempo. Isso significa dizer que apresentar tal intersecção, ainda que sinteticamente, neste texto, nos provoca a contribuir e repensar muitas das tendências que historicamente vem baseando as formulações teóricas a respeito do temário.
Longe de crer que este estudo possa em si resolver todas estas questões, apresentamos uma inicial reflexão que pode contribuir minimamente para enriquecer ainda mais a seara de produções que baseiam a formulação concreta de políticas públicas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes no país. Para isso este artigo se apresenta a partir do resgate da construção histórica da infância com vistas a retomar as intersecções diante da análise deste processo histórico, alcançando enfim a contemporaneidade com as relações que se estabelecem com o trabalho infantil na atual conjuntura, chegando finalmente à afirmação do fenômeno do trabalho infantil como expressão intersecional entre escravidão, gênero e raça.
1. A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E A INTERSECCIONALIDADE ENTRE RAÇA E GÊNERO COMO EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA DA ESCRAVIDÃO: UM ENFRENTAMENTO NECESSÁRIO
Inicialmente devemos indicar que não temos dúvidas, e as pesquisas referendam, que a incidência do trabalho infantil se dá sobre famílias predominantemente negras. Para dizer o óbvio, a pesquisa realizada pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Vitória (ES) (2020), por exemplo, indica que 89% das famílias vítima de trabalho infantil atendidas pelo município não são brancas.
É relevante reafirmar que entre as vítimas de trabalho infantil verifica-se uma incidência da violação sobre crianças e ou adolescentes do sexo masculino. Esta constatação não merece ser questionada, o que nos parece importante afirmar é que, por mais que tal indicador seja verdadeiro, não é correto afirmar que, a partir dele, por si só, a incidência desta violação não ocorra com demasia também sobre crianças e adolescentes do sexo feminino.
Segundo dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) ocorreram entre 2007 e 2018 mais de 43 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes, com mais de 260 vítimas fatais. Estes dados oficiais devem ser redimensionados devido as subnotificações de violências que não são indicadas. Entre elas o próprio trabalho infantil, sem contar as vítimas de abuso e exploração sexual e adolescentes que atuam no tráfico de drogas.
Veja que as incidências do trabalho sobre o gênero feminino são ainda mais distantes das pesquisas e estudos, deixando a desejar no debate sobre a incidência e ocorrência d este fenômeno do trabalho infantil sobre crianças e adolescentes do sexo feminino. A subnotificação e sua imprecisão reafirmam ainda mais, ao contrário de negar, a interseccionalidade entre o trabalho infantil e gênero feminino.
Queremos evidenciar que a intersecção entre o referido fenômeno e a questão de gênero era, quando muito, tratada com recortes pontuais, o que resultou em pouquíssimos estudos e em larga necessidade de produção no que se refere ao gênero feminino.
Especificamente em relação ao trabalho infantil vinculado a exploração sexual e o trabalho infantil doméstico são as violações que atingem majoritariamente crianças e adolescentes do gênero feminino. Somam-se a elas até então a quase intocada questão de gênero a respeito de crianças e adolescentes LGBTQI+. Veja que, se atentarmos a tais invisibilizações, podemos crer que a dimensão interseccional de gênero seja aqui central para uma análise realmente crítica acerca dos direitos de crianças e adolescentes na atualidade.
E estas questões todas se encontram, sobrepondo-se e tecendo-se sobre a vida de milhares de famílias na sociedade brasileira. E aqui também reside a amplitude da concepção interseccional de análise e sua capacidade de alcançar reflexões até então invisibilizadas. Quando analisamos a constituição familiar das vítimas de trabalho infantil a mesma pesquisa realizada em Vitória (ES) indica que 95% das entrevistadas eram mães ou responsáveis das crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil na cidade. Dentre elas apenas 28% afirmaram ter algum cônjuge, companheiro ou marido. Assim, 67% das responsáveis são mães solo. Entre elas, 65% declararam terem entre quatro ou cinco filhos; 84% convivendo com pelo menos seis membros na mesma residência e recebendo até no máximo meio salário- mínimo e 75% sendo consideradas abaixo da extrema pobreza.
Veja que, a partir dos dados apresentados, a relação de gênero não pode se limitar,q uando a análise se refere ao fenômeno do trabalho infantil, apenas à vítima imediata da violação, ou seja, apenas sobre a criança ou adolescentes nem tampouco sobre o gênero masculino. É imperiosa, e um princípio da interseccionalidade, a compreensão da totalidade e do contexto em que predomina a referida violação de direitos.
Para observarmos melhor a reprodução do fenômeno do trabalho infantil devemosn os remeter a sua incidência com forte traço ideológico. Ou seja, aquilo que chamamos de “mitos do trabalho infantil” e que se conceituou, após a ascensão da doutrina da proteção integral e que ordinariamente nós utilizamos para explicar o trabalho infantil e seus potentes mecanismos de reprodução não passam na verdade de ideologias do trabalho infantil.
Embora a narrativa dos mitos, e o próprio conceito de mito nesta perspectiva seja uma medida de propaganda, informação e mobilização contrárias ao trabalho infantil, podemos considerar que ela é limitada a uma concepção utilitarista. Isso significa dizer que por mais que tenha sentido e sirva para esta finalidade ilustrativa, a ideia de mitos do trabalho infantil não dá conta e nem revela a dimensão interseccional que o fenômeno compreende.
Não se trata aqui de uma oposição ao termo mito, mas apenas designar que os mitos detêm características estritamente ideais. Portanto, nos valemos de tal compreensão de que o trabalho infantil detenha uma base ideal, mas que se fortalece e se reproduz, sobretudo pela sua base material.
O que afirmamos neste trabalho se refere a conceituação do trabalho infantil como ideologia. Ou seja, a referida violação se manifesta na sociedade como ideologia. Um conjunto de ideias que se autonomiza e acaba, por sua vez, virando-se contra a própria sociedade (EAGLETON, 1997). Mas, este conjunto de ideias, diferente dos mitos, não detém uma quase exclusividade na base das ideias. Ele é, na verdade, a unidade de base objetiva e subjetiva. Portanto, o trabalho infantil se reproduz por meio de ideias, discursos e narrativas. Mas apodera-se e se capilariza pela necessidade material de reprodução da vida de um largo segmento da sociedade prejudicado pelas expressões da desigualdade social que necessita lançar mão de tal estratégia de sobrevivência.
A ideia de que é melhor trabalhar do que roubar ou as demais falácias oriundas deste mesmo fenômeno são, na verdade, ideologias do trabalho infantil, dando ao próprio fenômeno um status de ideológico. Mas nem sempre foi assim. Isto pois, o trabalho infantil passou a ser ideologia no longo processo de ascensão da chamada modernidade, sobretudo, do modo de produção capitalista. Não é segredo que o atual modo de produção se serviu na sua ascensão do trabalho de crianças e adolescentes. Estas, por sua vez, serviam para a pilhagem e concentração de renda que assola a humanidade desde sua ascensão.
Quando do início do processo de industrialização no Brasil, diversos problemas atingiram a sociedade: crescimento demográfico desordenado, exploração da mão de obra urbana, aumento da pobreza e surgimento de habitações precárias, aumento da exploração do trabalho feminino e infantil. Sobre a infância e a adolescência pesava decisivamente a determinação do empresariado em reduzir os custos de produção. A pressão social pela saída das crianças das ruas e a ideologia do trabalho como adequação da moral fez por naturalizar o trabalho dos infantes nas fábricas. Esclarece Orlando Gomes que não havia preceito moral ou jurídico que impedisse o patrão de empregar os infantes: os princípios invioláveis do liberalismo econômico e do individualismo jurídico forneciam-lhe a base ética e jurídica para contratar livremente mulheres e crianças (LIMA, 2008).
Como nota-se era latente a necessidade do capital no uso deste tipo específico de mão de obra. Ocorre que ao longo do desenvolvimento das forças produtivas esta necessidade se alterou e foram contra restadas pelo desenvolvimento e acúmulo da força de trabalho que passou a organizar-se em defesa de seus direitos. Neste sentido, por um lado, o aperfeiçoamento da produção e a alta taxa de exploração de adultos passaram a dispensar a mão de obra de crianças e adolescentes. E, por outro lado, a luta da classe trabalhadora passou arrancar e conquistar direitos até então inexistentes, como a regulamentação do trabalho.
E, mesmo com o avanço do ordenamento jurídico, não alcançou de fato a erradicação de tal fenômeno. Isto pois, por mais que haja a importante garantia constitucional ainda persistem as bases desigual e opressoras que legitimam a reprodução de tal fenômeno. Mesmo com pesquisas que apontam a improdutividade e o atraso econômico em nações que lançam mão do trabalho de crianças e com demonstrações de que o trabalho de crianças e adolescentes não impactam na economia e na geração de riquezas, o fenômeno persiste.
E isto, para nós, se revela como fruto da condição ideológica do trabalho infantil. E é aqui que se entrecruzam então as determinações das categorias de gênero, raça e a própria escravidão. Significa dizer que as bases materiais precipitadas pela pobreza, desemprego, inflação, corrosão da renda, informalidade, privatização de serviços entre outros, se arregimenta junto a base ideal de tal violação que utiliza da moralidade do trabalho como ferramenta de justificar a real brutalidade e violência do trabalho infantil. Assim o astuto mecanismo ideológico transforma uma grave violação de direitos de crianças e adolescentes em uma virtude romantizada pela moral adjacente da prosperidade e a lógica de acumulação capitalista.
Esta antiga associação ideológica de raiz racista e elitista é reafirmada por toda formação social brasileira. Somente em 2018, o sistema socioeducativo – responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes em conflito com a lei – detinha 26 mil adolescentes, 61% homens negros e sua grande maioria pobres ou extremamente pobres. Este dado se reflete no quadro de detenção de adultos que assemelham as mesmas características, sendo que 40% deles se encontram encarcerados sem passar por nenhum julgamento, de acordo com o Mapa do Encarceramento, do IPEA, 2019.
Dados recentes apontam que as pessoas que moram nas periferias da cidade, como São Paulo, por exemplo, têm dez vezes mais risco de morte do que nos bairros mais nobres (FIGUEIREDO, 2020). A reprodução cotidiana de dados assustadores se assenta em um modo de produção de riquezas desigual e excludente que concentra 41% de toda renda do país nas mãos de 10% de indivíduos, segundo a FGV, 2019. Colocando o Brasil em segundo lugar em maior concentração de renda e, em sétimo lugar em maior desigualdade social, de acordo com o relatório IDH, ONU, 2019.
A expectativa de vida, segundo dados da rede Nossa São Paulo de 2019, por exemplo, aponta que em bairros nobres da cidade a população alcança em média 80 anos e, nos bairros pobres, a média é de 57 anos (REDE, 2019). Ou seja, 23 anos afastam a expectativa de vida entre os mais pobres e mais ricos neste país. Este fenômeno se deve, entre outras razões, pela (1) inserção precária no mundo do trabalho, pela (2) ocupação dos piores cargos e funções e também pelo (3) início da vida laboral precoce, elementos que compõem a superexploração do trabalho nos países de capitalismo dependente.
E é aqui que reside a interseccionalidade entre a dimensão do trabalho escravo e sua manifestação contemporânea como chave de análise acerca do fenômeno do trabalho infantil. Seria superficial afirmarmos que há uma relação interseccional entre a expressão contemporânea do trabalho escravo apenas (e isso não é pouco) se a relacionarmos às condições de vida precária da esmagadora maioria da população brasileira. O fato que nos indica que a interseccionalidade entre as opressões de raça e gênero se aliam ao trabalho infantil cujas bases estão fundadas nas características contemporâneas da escravidão são ainda mais profundas.
Os processos inerentes a invasão das terras brasileiras, o estupro, o mandonismo e os genocídios, também seriam suficientes para informar as conexões entre as fases da construção histórica da infância no nosso país juntamente a subjugação escravista. O sangrento caldo cultural gerado por meio da escravidão, a reprodução da alienação oriunda do trabalho que tem a capacidade fetichizadora de reverter sua dimensão opressora e exploradora e se apresentar como virtude também já dariam conta da questão.
Mas o que se quer apontar é que se reapresentam na contemporaneidade algumas características próprias do trabalho escravo que se interseccionam com a temática do trabalho infantil. Estas, por sua vez, complexificadas s obretudo pelas determinações de raça e gênero que informam e aprofundam a reprodução desta brutal violação de direitos de crianças e adolescentes.
São quatro as determinações contemporâneas do trabalho escravo segundo o art. 149 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940). A) Submissão ao trabalho forçado; B) Submissão a jornada exaustiva, C) Sujeição à condição degradante e D) Restrição de locomoção por dívida. É a partir daí que podemos compreender então a relação interseccional entre as características do trabalho infantil submetidas às características mais amplas do trabalho escravo na contemporaneidade.
Isso não significa que toda exploração do trabalho infantil possa ser considerado trabalho escravo. Nem mesmo qualquer tipo ideal de trabalho escravo só pode ser enquadrado como tal se seguir todas as características apontadas acima. Basta que se apresentem uma ou mais combinações de suas características para que se tenha tal confirmação.
No inquérito 3.412, em que é autor o Ministério Público Federal e investigado João José pereira Lyra e outro, a Ministra Rosa Weber, em seu voto para recebimento da denúncia, apresenta elementos que representavam, já em 2012, uma nova visão dos tribunais brasileiros. Destacamos um trecho do seu voto:
Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. (BRASILIA, Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 3.412. Autor: Ministério Público Federal. Investigado: João José Pereira de Lyra e outro. Publicado no DJE em 12.11.2012)
Recentemente, no RE 1.323/708, o Supremo Tribunal Federal decidiu por repercussão geral reconhecida na matéria do caso de fazendeiro absolvido no Pará, mas que teve recurso interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão da 4ª turma do TRF da 1ª região. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, citou decisões da Corte em que já se é pacificada a compreensão de que “o crime previsto no artigo 149 do CP está configurado no caso de situações de ofensa constante aos direitos básicos do trabalhador, como a submissão a trabalhos forçados, a jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho. Assim, não é necessário que haja o cerceamento da liberdade de ir e vir do trabalhador” (MIGALHAS, 2021).
O que gostaríamos de afirmar é que a pesquisa realizada para este artigo indica que inevitavelmente, todas as formas de trabalho infantil apresentadas pelo Decreto 6.481/2008, que institui a Lista das Piores formas de Trabalho Infantil (lista TIP), estão relacionadas com uma ou mais características apresentadas como expressão do trabalho escravo contemporâneo. Afirmamos que entre os 13 “ramos” de piores espaços para desenvolvimento laboral e entre os 93 tipos de funções executadas por crianças e adolescentes correlatadas na legislação, são elas todas atravessadas pelas características do trabalho escravo na contemporaneidade. E, em seu art. 4º, inciso I, é previsto explicitamente como uma das piores formas do trabalho infantil: todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório (BRASIL, 2008). Isso nos indica algumas considerações importantes que apesar de figurarem o encerramento do artigo, apontam para um necessário aprofundamento.
CONCLUSÃO
A contribuição genuína dos conceitos de interseccionalidade juntamente à proposta do temário nos aponta uma tendência em observar a relação entre opressão de raça e gênero que não pode ser limitada a interpretação focalizada apenas na criança ou adolescente vítima da exploração do trabalho infantil. Devemos, partindo deste pressuposto, considerar toda a trajetória, memória e história familiar e comunitária (território) do pleno desenvolvimento da criança e adolescente em sua totalidade, bem como levar em conta a sua autodeterminação prezando pela autonomia e respeitando sua personalidade. Há aqui a necessidade urgente de tratar e aprofundar a interseccionalidade de gênero referente ao público LGTBQIA+, que sofrem com o preconceito e a discriminação e se submetem ao trabalho infantil como forma de sobrevivência. Aqui a expectativa de vida no Brasil é baixíssima, sobretudo da população transexual. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais- ANTRA o Brasil teve 89 pessoas trans mortas no primeiro semestre de 2021.
Correlato a este aspecto fundamental reside a intersecção de raça, premente para o debate acerca de uma violação dos direitos sociais predominantemente incidente sobre a população negra. No caso da violação pelo trabalho infantil a incidência da violação se apresenta no que tange a raça/cor negra com uma taxa superior à média das demais famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, por exemplo. Isto significa dizer que as famílias vítimas de trabalho infantil são ainda mais negras, extremamente pobres do que as demais famílias atendidas por programas, projetos e serviços socioassistenciais, demonstrando a urgência em tratar do assunto.
E, finalmente, um eixo determinante da interseccionalidade entre a opressão de raça e gênero reside na conceituação do trabalho escravo e no reconhecimento de sua determinante relação com as piores formas de trabalho infantil (Lista TIP). Estasc onsiderações finais visam cumprir o objetivo de evidenciar polêmicas e debates consideravelmente inovadores e não conclusivos. É certo que tais temáticas aqui apresentadas precisam ser imediatas na produção da área e só pode cumprir este papel pelo reconhecimento da interseccionalidade como método de análise que visa reconhecer a relação dialética entre as determinações fundantes que incidem sobre a reprodução de fenômenos extremamente graves nesta sociedade.
Para além deste reconhecimento teórico e conceitual, a força deste debate visa alcançar o embate e incidir concretamente na consolidação das políticas públicas para crianças e adolescentes, sobretudo, vítimas do trabalho infantil. Estas políticas, por sua vez, devem se atentar ao poder da crítica e que caso não se atentem às reflexões apresentadas ao longo destas contribuições correm o risco de reeditarem ações descontinuadas, aderindo ao mito da democracia racial, a concepção patriarcal e assim sucumbir ao ideário escravocrata que teima (re)incidir sobre nossa realidade social. Mais que premente tal debate que submetemos à crítica se propõem a integrar reflexões críticas e potentes, numa batalha que ombreamos a muitos anos reafirmando a interseccionalidade na compreensão desta realidade social em defesa dos direitos de crianças e adolescentes na busca pela erradicação do trabalho infantil como “um enfrentamento necessário”.
REFERÊNCIAS
ANTRA. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Boletim nº 002-2021. In: Antra Brasil. Disponível em: https://antrabrasil.files. wordpress.com/2021/07/boletim-trans-002-2021-1sem2021-1. pdf.A cesso em: 11 set. 2022.
BRASIL. Lei nº 8.069/1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. In: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesso em: 20 abr. 2022.
BRASIL. Decreto nº 6.481/2008. In: Câmara Legislativa. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2008/decreto-6481-12-junho-2008-576432- publicacaooriginal-99613-pe.
html. Acesso em: 20 ago. 2022.
BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Inquérito nº 3.412. Autor: Ministério Público Federal. Investigado: João José Pereira de Lyra e outro. DJE. 12/11/2012. In: REDIR STF. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3076256. Acesso em:1 3 set. 2022.
EAGLETON, T. Ideologia. São Paulo: Boitempo/UNESP, 1997.
FIGUEIREDO, P. Risco de morrer por Covid-19 em SP é até 10 vezes maior em bairros com pior condição social. Portal G1 SP. In: Website G1. 2020. Disponível em: https://g1.globo. com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/29/risco-de-morrer-por-covid-19-em-sp-e- ate-10-vezes-maior-em-bairros-com-pior-condicao-social.ghtml. Acesso em 10 set. 2022.
LIMA, D. A. Q. Evolução histórica do trabalho das crianças. In: JUS.COM.BR. Website. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/11021/evolucao-historica-do-trabalho-da-crianca. Acesso em: 10 set. 2022.
MIGALHAS. STF definirá regras para condenação por condição análoga à de escravo. In: Migalhas.com Website. 2022. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/351489/stf-definira-regras-para-condenacao-por-condicao-analoga-a-de-escravo. Acesso em 10 set. 2022.
PETI. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Condições atuais das famílias e indivíduos do trabalho infantil no município de Vitória no contexto da pandemia. 2020,n o prelo.
REDE NOSSA SÃO PAULO. Mapa da desigualdade 2019 é lançado em São Paulo. 2019. In: Nossa São Paulo. Disponível em: https://www.nossasaopaulo.org.br/2019/11/05/mapa-da-desigualdade-2019-e-l ancado-em-sao-paulo. Acesso em: 22 set. 2022.
SINAN. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Website. In: Portal SISAN https://portalsinan.saude.gov.br. Acesso em: 22 set. 2022.